Emenda
Constitucional de Nº 13
I have a dream - Eu tenho um sonho -
Martin Luther King Jr
Martin
Luther King Jr., ativista político norte americano, fez um discurso em
Washington, capital dos Estados Unidos no dia de 28 de agosto de 1963.
I have a
dream (Eu tenho um sonho), foi como ficou conhecido esse discurso e é
considerado até hoje um dos maiores discursos da história.
Décima Terceira Emenda à Constituição
dos Estados Unidos
A 13ª Emenda - Trailer legendado -
Netflix [HD]
Estudiosos,
ativistas e políticos analisam a correlação entre a criminalização da população
negra dos EUA e o boom do sistema carcerário do país. Dirigido por Ava DuVernay
(Selma), esse é mais um documentário original Netflix.
Foi a primeira das emendas da
Reconstrução.
O Presidente
dos Estados Unidos na época da votação era Abraham Lincoln.
A emenda está assim redigida:
"Emenda XIII
'Seção 1'
Não haverá, nos Estados Unidos ou em
qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos
forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente
condenado.
'Seção 2'
O Congresso terá competência para
fazer executar este artigo por meio das leis necessárias"
Salvo hiperbólico?
“(...) Salvo
como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado.
(...)”
Ou seja:
“A escravidão não acabou.”
Nos termos da interpretação
do professor Marco Antônio Vila, em programa da Rádio Jovem Pan, ao vivo, no
Youtube, no dia 20/01/2020, feriado nacional nos Estados Unidos em homenagem ao
nascimento do advogado civilista Martin Luther King.
1. Birthday of Martin Luther King (Aniversário
de Martin Luther King)
Mantin Luther King Jr. nasceu
em 15 de janeiro. Existe um feriado nacional nos Estados Unidos próximo à data
de seu nascimento. Ele é comemorado toda terceira segunda feira do mês de
janeiro.
Em muitas cidades são realizadas
comemorações, desfiles e homenagens ao ativista Martin Luther King Jr.,
considerado um dos nomes mais importantes do movimento pelos direitos civis dos
negros nos Estados Unidos.
King recebeu Prêmio Nobel da Paz em
1964 pelo combate às desigualdades raciais sem usar a violência. Em 4 de abril
de 1968 foi assassinado.
O Dia de Martin Luther King foi
estabelecido como feriado nacional em 1986.
O
dia do nascimento de Martin Luther King Jr. é feriado nacional nos Estados
Unidos, sendo celebrado com festas, paradas e homenagens.
domingo, 19 de janeiro de 2020
- O Estado de S.Paulo
A atual generalizada redução das classes a
massas não prenuncia nada favorável
Guerras culturais têm uma aparência
kitsch e costumam girar em torno de monstros fabulosos, a tal ponto que nunca
se sabe muito bem se os contendores argumentam de boa-fé ou estão mesmo
perdidos entre sofismas que inventaram com intenções pouco claras. Quando ouve
falar da ameaça rediviva do bolchevismo mundial ou de inimigos imaginários
apontados à execração pública - inimigos que, a depender da latitude, podem ser
um milionário judeu, como George Soros, um pedagogo brasileiro, como Paulo
Freire, ou ainda o demoníaco Antonio Gramsci de mil faces -, qualquer pessoa
formada segundo padrões racionais e contemporâneos haverá de torcer o nariz com
certo enfado. “Paranoia ou mistificação?”, poderá perguntar a si mesma, ecoando
talvez Monteiro Lobato, grande intelectual moderno paradoxalmente reativo à
modernidade artística que abria caminho há cem anos.
Esse nosso personagem de formação
razoável sabe, entretanto, que com ideias não se brinca. Elas podem ser
abstrusas e até divertidas, se consideradas com distanciamento, mas num tempo
ideologicamente confuso e agitado, que a tantos chega a lembrar a crise dos
anos 1930 e as soluções totalitárias então engendradas, têm o poder de formar
convicções e sentimentos de grandes massas, tornando-se por isso mesmo uma força
material tão densa e concreta quanto qualquer fato bruto da economia ou mesmo
da realidade natural. Ideias podem matar ou, no mínimo, propiciar catástrofes
históricas. Podem configurar aquele “assalto à razão” que um grande filósofo
marxista do século passado denunciou com vigor na cultura alemã e que seria a
antessala do nazismo - o mesmo filósofo que, no entanto, não viu acontecer o
assalto semelhante que iria corroer por dentro a experiência do socialismo
inaugurada em 1917.
Este não será um tempo de partidos -
oficialmente em crise, eles que foram moldados segundo os requisitos da
sociedade industrial, hoje em trânsito acelerado para a digitalização -, mas
continua a ser de homens partidos e de má política. Expliquemo-nos sobre esta
última expressão: a política é má quando, por deficiência subjetiva dos atores
ou pela natureza inédita das transformações que varrem o mundo, não dá conta
dos fenômenos, vê-se atropelada por eles, sem conseguir identificar as boas
possibilidades existentes mesmo durante os processos mais tumultuosos. E não se
trata, obviamente, de uma condição fatal: ela, a política, é má quando ainda
não compreende tais processos e deixa homens e mulheres comuns sem a
capacidade, tanto intelectual quanto emocional, de tomar conta das forças que
dirigem sua vida. Como se costuma dizer, em tais momentos os fatos, e não os
sujeitos, parecem estar no comando. E os resultados em casos assim são, no
mínimo, sofríveis, se não desastrosos.
A política, quando parece ausentar-se
nos momentos de crise aguda, “orgânica”, logo se vê substituída pela ideologia
no pior sentido da palavra. Ágnes Heller, a dileta aluna do acima mencionado
Georg Lukács, cujo horizonte se abriu para além do marxismo, incorporando,
entre outros, o pensamento de Hannah Arendt, insistiu exatamente nesse ponto às
vésperas da sua morte, no ano passado. Não é que a sociedade de classes seja um
momento luminoso do passado ou que a política havida no seu âmbito seja um
farol da razão ou um modelo inalcançável. Houve ditaduras, e ditaduras cruéis,
no século 20; mas a atual redução generalizada das classes a massas não
prenuncia nada particularmente favorável. Ontem e hoje, as formas totalitárias
de poder medram exatamente quando essa redução se consuma.
A ideologia torna-se o alimento de má
qualidade manipulado demagogicamente pelos tiranos ou aspirantes a tiranos. Na
Hungria, a pátria de Heller, um nacionalismo étnico invade o espaço público e
sufoca a vida democrática: a retórica xenófoba toma conta de um país que
praticamente não tem imigrantes. A vida institucional sofre continuadas
agressões da parte do Executivo todo-poderoso. A imprensa vê-se comprada pelos
amigos ou apaniguados do poder - ou calada. Uma estratégia “hegemônica”
rudimentar - uma espécie de “gramscismo” da extrema direita -, baseada em
agressivo conservadorismo pseudorreligioso, limita os espaços de liberdade
individual, vistos como o lugar por excelência do perigoso comunismo cultural e
suas sedutoras “teorias de gênero”, sua anarquia espiritual, seu espírito globalista
e apátrida.
Tudo isso, dizíamos, é um tanto
kitsch, ou, para falar a verdade, tem a marca registrada do mau gosto e da
mediocridade, da paranoia e da mistificação. Alguns ainda argumentarão que a
pequena Hungria tem uma história democrática modesta, reduzida, como lembrava a
própria Heller, ao tempo da primavera dos povos em 1848 ou da rebelião
antissoviética de 1956. E que, por isso mesmo, os maus ventos que lá sopram não
poderiam empestear as casamatas e as trincheiras mais robustas que são próprias
do Ocidente, a começar pela mais antiga das democracias modernas, apesar de
hoje assolada pela vulgaridade de um Trump. E mesmo o Brasil, depois de 1988,
teria trocado os parênteses democráticos da sua história por uma democracia
estável, amparada estruturalmente numa sociedade civil e econômica complexa e
diversificada, que não mais autoriza aventuras autoritárias.
Há verdade neste último argumento, mas
não convém subestimar os perigos do caminho. Entre eles, e não em último lugar,
as belicosas guerras de cultura, que têm o condão de corromper a sociedade,
dividi-la e empobrecê-la. A viva dialética da cultura, com seus combates e
desafios, com seu lento e molecular trabalho de construção de valores e ideais
comuns, é uma coisa. Bem ao contrário, as guerras e os guerreiros culturais,
não importa a bandeira que ostentem ou o motivo que os agite, são um decalque
simultaneamente farsesco e trágico de tal dialética. Há que evitá-los.
*Tradutor e ensaísta, é autor de
‘reformismo de esquerda e democracia política’ (Fundação Astrojildo Pereira)
domingo, 19 de janeiro de 2020
- O Estado de S. Paulo / Aliás
A história humana é feita de apropriações e
mesclas; o turbante, que muitos julgam africano, foi levado à África Negra
pelos invasores árabes, que conquistaram muitos de seus reinos
É preciso continuar chamando a atenção
para o significado perverso do avanço do fascismo de esquerda no Brasil. Hoje,
a cada passo que damos, topamos com dois conceitos excludentes vociferados de
forma agressiva, violenta mesmo, pelas milícias (vulgo “coletivos”) do
multiculturalismo identitário: o chamado “lugar de fala” (circunscrevendo
legitimidades discursivas só para “oprimidos”) e a chamada “apropriação
cultural”, pretendendo isolar e compartimentar “culturas”.
De fato, o multiculturalismo encontrou
sua expressão política mais aguda e belicosa no fascismo da esquerda
identitária. E o que é mesmo o multiculturalismo? Sejamos claros: é um
“apartheid” de esquerda. A ideologia multiculturalista se opõe às
interpenetrações culturais, defendendo o desenvolvimento apartado de cada
“comunidade étnica”, de modo que ela possa permanecer sempre idêntica a si
mesma, numa espécie qualquer de autismo antropológico. E o Brasil nunca foi e
não é um espaço multicultural. Ao contrário, somos um país sincrético.
Como escrevi outro dia artigo sobre o
“lugar de fala”, vou me deter hoje, mesmo brevemente, em torno da “apropriação
cultural”, que é um retrato acabado da atual ignorância a respeito da história
cultural da humanidade, toda ela feita de imposições, apropriações,
empréstimos, trocas e mesclas. A coisa ficou conhecida no Brasil graças ao
“caso do turbante”, que uma mulata escura tomou como signo cultural
especificamente negroafricano. O turbante foi levado à África Negra pelos
árabes, que invadiram e dominaram muitos de seus reinos (é provável, inclusive,
que a palavra “mulato” venha do árabe, designando originalmente filhos de
árabes e pretos). É conhecida a história da revolta do Gobir, reino hauçá,
contra a dominação muçulmana. Proibiu-se ali, naquela conjuntura, que negros
usassem símbolos da opressão islâmica – entre eles, o turbante. A mulata
brasileira que tomou o turbante como signo negro nada conhecia de história
africana.
Mas podemos chegar também a outra
perspectiva sobre “apropriação cultural”, no caminho do musicólogo Flávio
Silva, em seu importantíssimo Musicalidades Negras no Brasil. Flávio fala aí da
afirmação do sistema tonal entre nós, marcando de uma ponta a outra nossa
criação musical. Lembra que a tonalização do ouvido brasileiro, no sentido do
pré-classicismo europeu, foi difundida aqui “por compositores e instrumentistas
mulatos e negros instruídos por mestres lusos durante o período colonial”.
“A modinha, o lundu, a ópera, a
opereta, a invasão de danças europeias e de suas partituras no século XIX
prolongaram e ampliaram a tonalização do ouvido musical, vitoriosa nos choros e
maxixes do fim do século, que desembocariam nos sambas urbanos e nos diversos
gêneros característicos do populário do século XX”.
E mais, acertando no centro do alvo:
“Um raciocínio simplório levaria a considerar a adoção do sistema tonal e de
seu instrumental pelos escravos e pelos que deles descendem, parcial ou
integralmente, como determinada pela opressão do sistema escravista. Músicos
como Domingos Caldas Barbosa, José Maurício, Callado, Pixinguinha, Cartola e
tantos outros integrariam uma espécie de ‘uncle Tom’ musical – acusação feita
nos EUA a Louis Armstrong”.
Flávio vai por outro caminho: “A
paixão e a virtuosidade com que esses músicos elaboraram obras perfeitamente
enquadradas na tonalidade denotaria uma perversão de sua identidade cultural.
Na realidade, o que ocorreu foi uma ‘apropriação cultural’, por parte dos
músicos negros, mulatos e dos mestiços em geral, dos princípios
harmônico-melódicos da música europeia, donde a notável aproximação estilística
de músicos de origens e regiões tão diferentes como Ernesto Nazareth no Brasil
e Scott Joplin nos EUA, que se desconheciam. Ataíde, Aleijadinho e outros mais
fizeram análoga apropriação cultural de princípios das artes visuais
europeias”.
Trata-se de uma inversão lúcida e
preciosa, sobre a qual nossos identitários e racialistas deveriam pensar. O que
se tem aqui nesta bela passagem, como em todo o texto de Flávio Silva, sempre
de uma precisão e erudição admiráveis, não é o ralo e reles discurso da
vitimização – mas a visão afirmativa do músico negromestiço brasileiro como
(para lembrar Waly Salomão) “a voz de uma pessoa [de uma trama processual ou de
uma ação cultural] vitoriosa”. Flávio deixa de lado o discurso da vitimização e
faz o discurso da afirmação vitoriosa.
É fundamental entender isso. Vitórias
negromestiças na música, na língua, no futebol ou na religião, com terreiros de
candomblé sendo hoje tombados como patrimônio da nação brasileira. Já o
multiculturalismo, com seu vitimismo, seu pessimismo programático e sua ânsia
de “apartheids”, aponta numa direção claramente contrária. Vejam o que
aconteceu nos Estados Unidos, país em que – pasmem – somente 4% dos brancos
possui alguma ascendência africana. Hoje, simplesmente, não existem mais
“americanos”. Existem ítalo-americanos, africano-americanos, etc. Querem também
pulverizar o Brasil e riscar do mapa a figura do brasileiro. Promover um
fracionamento étnico nacional.
Não é a primeira vez que tentam isso
entre nós. “Os primeiros intelectuais que elaboraram a diferenciação dos
brasileiros por categoria étnica ou religiosa foram os nazistas”, informa
Ricardo Costa de Oliveira em A Identidade do Brasil Meridional (na coletânea A
Crise do Estado-Nação, organizada por Adauto Novaes). Acrescentando: “De acordo
com o discurso nazista, não haveria povo brasileiro”. Índios à parte, o que
existiam eram luso-brasileiros, sírio-brasileiros, ítalo-brasileiros,
afro-brasileiros e assim por diante.
Ainda Oliveira: “Em 1937, reuniu-se em
Benneckenstein o Terceiro Congresso do Círculo Teuto-Brasileiro do Trabalho.
(...). Suas posições intelectuais apontavam para a formação de uma consciência
étnica que se manifestasse em uma comunidade distinta e separada enquanto
teuto-brasileira. (...). O teuto-brasileirismo era interpretado como ‘o gérmen
do retalhamento do Brasil, com o nazismo no momento, ou com outro nome qualquer
futuramente’”. Era o multiculturalismo nazista em ação, hoje levado adiante
pelo multiculturalismo identitário.
O multiculturalismo conseguiu fazer
isso nos Estados Unidos – e pode fazer o mesmo por aqui. Lembre-se que
juridicamente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o “jus soli” – o
chamado direito do solo, “lex soli” – vale dizer, a nacionalidade determinada
pelo lugar de nascimento, prevaleceu sobre o “jus sanguinis”, o direito de
sangue, a nacionalidade determinada pela matriz étnica. Mas se isso vigora no
plano jurídico, vemos que, nos Estados Unidos, a coisa foi revertida no campo
social. Político-social. Na sociedade norte-americana, o que prevalece agora é
o “jus sanguinis”. Por isso mesmo, podemos definir os atuais Estados Unidos
como o país dos etc.-descendentes. E a meta inequívoca é fazer o mesmo aqui no
Brasil. Se isto nem sempre é explicitamente formulado no plano da teoria, é
francamente exercitado no dia a dia da prática.
É justa e exatamente este o sentido de
uma expressão como “afrodescendente”. Quando alguém nascido no Brasil se diz
“afrodescendente”, está dizendo o seguinte: que se vê, se sente e se percebe,
em primeiro lugar e acima de tudo, como um descendente de africanos. E só
depois disso, muito secundariamente, como brasileiro.
Ao Brasil caberia um lugar subordinado
à matriz étnica (ou a uma das matrizes étnicas do sujeito, escolhida
ideologicamente, já que somos todos mestiços). Teríamos assim o ser brasileiro
como mero complemento do ser africano – e de um ser africano mítico,
ideológico, não é preciso dizer. Do ponto de vista do multiculturalismo e do
identitarismo, a nação é uma ficção reacionária. E, como tal, tem de ser
desmantelada. Daí, de resto, a relevância de visões como a de Flávio Silva, que
corrigem distorções grosseiras da esquerda semiletrada que hoje berra nos
“campi” e vai se espalhando pelas ruas, com seu discurso binário-maniqueísta,
que é o caminho mais curto e mais fácil para seduzir as massas.
*Antonio Risério é autor de 'Sobre o
relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária'
Referências
https://youtu.be/fz_7luovxPc
https://www.youtube.com/watch?v=fz_7luovxPc
https://youtu.be/h4uGff8OScM
https://www.youtube.com/watch?v=h4uGff8OScM
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cima_Terceira_Emenda_%C3%A0_Constitui%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Unidos
https://www.remessaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/10/martin115723.jpg
https://www.remessaonline.com.br/blog/os-feriados-nacionais-dos-estados-unidos/
http://gilvanmelo.blogspot.com/2020/01/luiz-sergio-henriques-guerras-falsas.html
http://gilvanmelo.blogspot.com/2020/01/antonio-riserio-o-pais-da-ficcao.html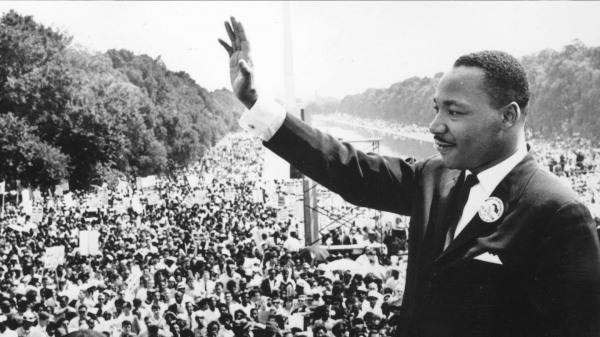
Nenhum comentário:
Postar um comentário