“(...) em Rei Lear toda a trama em torno de
Glausceter e seus filhos é um constante contraponto com a linha principal que
trata do próprio rei. (...)”
Baldeando há 50 anos por Woodstock
Cacá Diegues: Ódio e poder
- O Globo
O mundo de hoje, 50 anos depois de
Woodstock, talvez se ria dessa ideia tola de paz e amor
The Woodstock Music & Art Fair não
foi bem uma feira, nem se realizou na cidade de Woodstock, no norte do estado
de Nova York. Na história da cultura popular do século XX, o evento ficou
conhecido apenas como Woodstock.
Embora seu pôster oficial fosse mesmo
pretensioso, anunciando “an Aquarian exposition”, em “três dias de paz &
música”, sua repercussão junto à juventude americana foi maior do que isso e se
tornou incontrolável.
Os festivais de música já proliferavam
na América e no Hemisfério Norte do Ocidente, mas Woodstock acabou sendo o
maior e o mais importante deles.
Realizado na pequena cidade de Bethel,
numa fazenda de gado, Woodstock reuniu meio milhão de pessoas, sem nenhuma
condição para isso, entre 15 e 18 de agosto de 1969. Esta semana, portanto,
celebramos seu cinquentenário, 50 anos de lembranças que, pouco a pouco, vão se
apagando da memória do mundo.
Foi o que pensou um dos organizadores
do festival, o empresário Michael Lang, hoje com 74 anos de idade, que tentou
montar um novo Woodstock, uma comemoração no mesmo espaço em que ocorreu o
original. Algumas das estrelas desse novo espetáculo, já contratadas e pagas,
seriam Jay-Z e o Dead & Co, banda herdeira do histórico Grateful Dead. Além
de Carlos Santana, uma das poucas 32 atrações de 1969 que topou voltar a
Bethel. Mas as bodas de ouro de Woodstock fracassaram, e Lang anunciou, na
semana passada, seu cancelamento.
No final agitado da década de 1960,
Woodstock foi uma síntese da contracultura em ebulição. Único e lendário, o
evento acabou sendo um dos maiores momentos na história da música popular
universal. Depois do susto inicial com a multidão aglomerada diante do palco, o
público jovem cantou junto com artistas consagrados e conheceu os ícones da
música popular de ruptura radical da década seguinte, como Jimi Hendrix e Janis
Joplin.
Organizado como um show musical,
Woodstock se tornou uma proposta de novos costumes, de um novo comportamento.
Uma nova ideologia de paz e amor, o mantra que havia conquistado a juventude
como o ideal de uma época e de uma geração.
Nos Estados Unidos, a juventude havia
se interessado por política a partir do empenho contra a Guerra do Vietnã,
mobilizada pela televisão que trazia, para a sala de jantar dos lares
americanos, os mortos e mutilados das batalhas daquele dia em Hanói. Apesar
disso ou por causa disso, 1969 foi também o ano do assassinato da atriz Sharon
Tate, grávida de um filho de Roman Polanski, morta por fanáticos,
autoproclamados hippies liderados por Charles Manson.
O mundo de hoje, 50 anos depois,
talvez se ria dessa ideia tola de paz e amor.
Preferimos celebrar o ódio como a arma
que leva ao poder e, se possível, à guerra que pode ser militar, comercial ou
cultural. Tanto faz, contanto que seja capaz de aniquilar o outro, o diferente
de nós, o inimigo. Os que não têm poder, não têm como destruir o adversário. E
os que não cultivam o ódio jamais terão poder, jamais serão capazes de dar
porrada no outro. Isso é o que de fato parece interessar, em nossos dias.
No Brasil, em agosto de 1969, vivíamos
um dos piores momentos de nossa vida política, sob o autoritarismo da ditadura
militar. Nessas circunstâncias, era impossível acompanhar a explosão de
liberdade convulsiva e fraterna identificada no slogan “paz e amor”.
No máximo, podíamos contar com o vigor
de nossa música popular e com a recente alternativa tropicalista. Nossa mais
consagradora vitória cultural no período, a Bossa Nova, era a exata negação de
Woodstock, uma organização mental de sentimentos e emoções. À frente dela, João
Gilberto era o ápice de uma mistura rara e quase divina de perfeição e
delicadeza. O que não tinha nada a ver com o agito contracultural de Woodstock.
Enquanto a juventude do país mais rico
do mundo caía de boca na insegurança do experimentalismo, desorganizando a
produção cultural e as relações humanas, em benefício do ideal de um novo modo
de vida, sem noção do que poderia acontecer, no pobre maior país
latino-americano lutávamos para melhor organizar nossas cabeças e encontrar um
jeito de sobreviver à tragédia que o destino político nos havia preparado. Às
vezes parecia outro planeta.
O Rei Leão ganha novo trailer com personagens
icônicos e cenas clássicas
Por Felipe Ribeiro | 10 de
Abril de 2019 às 12h30
O hype está aumentando cada vez mais e
não estamos sabendo lidar com isso. A Disney divulgou nesta
quarta-feira (10) um novo trailer de O Rei Leão, remake live
action da animação de 1994. No vídeo, é possível ver Simba e Nala em suas
versões filhote e adulto, além de Scar, Zazu, Timão e Pumba. Cenas clássicas
presentes no filme original e totalmente recriadas também foram mostradas no
trailer.
O vídeo começa com os jovens Simba e
Nala explorando o cemitério de elefantes e encontrando o bando de hienas de
Scar; logo depois, pulamos para a orientação de exílio que o mesmo Scar sugeriu
ao seu sobrinho. Com esse teaser, está claro que a Disney está se aproximando
desse filme como um remake quase instantâneo, com algumas cenas icônicas do
filme de animação original sendo trazidas à vida quase idênticas. Há até um
breve clipe de Timão e Pumba cantando The Lion Sleeps Tonight no
final.
O filme é dirigido por Jon Favreau,
diretor de Homem de Ferro e Mogli, o Menino Lobo, e conta com um
elenco impressionante: Donald Glover (Simba), Beyonce (Nala), Seth Rogan
(Pumba), Billy Eichner (Timão), Chiwetel Ejiofor (Scar) , John Oliver (Zazu) e
James Earl Jones (retornando à voz de Mufasa).
Veja o trailer abaixo, legendado:
O Rei Leão é o mais recente filme de
uma linha de remakes em live action da Disney, que lançou nos últimos
anos adaptações de vários filmes de animação clássicos, incluindo Mogli, A
Bela e a Fera e, mais recentemente, Dumbo. Em maio, o estúdio lançará Aladdin,
e planeja lançar um remake de Mulan em 2020.
'O Rei Leão': Disney divulga trilha sonora do
live-action; ouça
REDAÇÃO - O ESTADO DE S.PAULO
11/07/2019, 15:56
Músicas de Beyoncé, Iza, Elton John e
Hans Zimmer foram disponibilizadas no Spotify e YouTube nesta quinta-feira, 11
Cantora, que interpretará algumas canções da
live-action, produzirá novo álbuns inspirado em 'O Rei Leão'. Foto:
Divulgação/Disney
A Disney lançou a trilha
sonora completa do live-action O
Rei Leão nesta quinta-feira, 11. É possível ouvir as músicas do filme em
plataformas como o YouTube e
o Spotify, tanto em versões em inglês como
na brasileira, em português.
Nomes conhecidos do público como Beyoncé, Donald
Glover e Elton John estão presentes nas músicas em inglês. Já na
trilha sonora em português, é possível encontrar artistas como Iza, Ícaro
Silva, Ivan Parente, Graça Cunha e Rodrigo Miallaret.
A trilha sonora instrumental fica por
conta de Hans Zimmer.
Trilha sonora de O Rei Leão no
Spotify
Confira abaixo a trilha sonora
original de O Rei Leão:
Confira abaixo a trilha sonora
de O Rei Leão na versão brasileira:
Trilha sonora de O Rei Leão no
YouTube
Quando estreia O Rei Leão no Brasil
O Rei Leão será lançado na
próxima quinta-feira, 18 de julho, no Brasil. Assista ao trailer abaixo:
VEJA TAMBÉM: Desenhos que ganharam
versões live-action
Rei Lear
|
O ator Raul Cortez e o diretor Ron
Daniels, que começaram juntos no teatro, se reencontram para montar a
tragédia de Shakespeare, que deve estrear no segundo semestre de 99
|
NELSON DE SÁ
da Reportagem Local
O diretor Ron Daniels e o ator Raul Cortez conversam como velhos amigos sobre "Rei Lear". Cortez o chama de Ronaldo, do nome de ator, quando Daniels estreou no palco: Ronaldo Daniel.
Estiveram juntos em "Boca de Ouro", em 60, e "Pequenos Burgueses", em 63. E "Rei Lear", de Shakespeare, tem muito dos dois amigos, quase 40 anos depois.
"É a história de dois pais", diz Daniels. "Um, Lear, com três filhas. O outro, Gloucester, com dois filhos. Raul e eu falamos sobre nossos filhos. Sobre como estamos sempre certos e errados, cometemos enganos e maravilhas."
Chamado pela filha de Raul, a atriz Lígia Cortez, para oficinas no teatro-escola Célia Helena, Daniels foi convidado pelo ator e aceitou dirigir a peça de Shakespeare. Não sem relutância.
Mas o diretor, que saiu do Brasil em 64 e desde então vem morando e trabalhando na Inglaterra e nos EUA, onde fez fama com encenações shakespearianas, acabou descobrindo que era o que devia fazer. É sua "dívida a pagar" com o país onde nasceu e cresceu.
"Eu falei com o (diretor Augusto) Boal, um guru na minha vida", diz Daniels. "Ele falou, "se você vem para cá, não tem alternativa: tem que fazer o Shakespeare com o Raul, neste momento dele'."
E Raul Cortez, neste momento da carreira, é exatamente o que, segundo Daniels, Shakespeare exige: "um ator com a coragem, o fôlego, a capacidade emocional, um ator no momento exato".
Daniels, que não atua desde os anos 60, rejeita a idéia de voltar ao palco, ele próprio. "Qualquer um pode ser diretor. Difícil é aquele instante em que o ator se transforma. Em que a palavra não é mais a palavra na página, mas a palavra vivenciada. Isso eu não posso fazer. Quem faz é o Raul."
A peça só estréia no segundo semestre de 99, mas o ator -e produtor- Raul Cortez diz já ter patrocinador encaminhado, bem como cenógrafo, J.C. Serroni, e uma nova tradução, de Barbara Heliodora. O elenco não está definido, mas, aos poucos, atores estão sendo convidados.
"Rei Lear", escrita em torno de 1606, é uma das grandes tragédias do autor inglês William Shakespeare (1564-1616), ao lado de "Hamlet", "Macbeth" e "Otelo".
A obra de Shakespeare narra o final da vida de Lear, rei de 80 anos, irascível, que aos poucos se despoja de tudo -do poder e, por fim, até da própria razão.
Ensaio
Por uma releitura de “Rei Lear”
18/03/2017 09:22
Por Redação
Edição 2175
Se a tragédia, como bem percebeu
Aristóteles, é a representação de homens superiores, o que faz de Lear
superior? Podemos dizer que Lear é um herói trágico por excelência, pois ele
concentra em si uma paixão e um desejo de ação que lhe serão fatais
“Rei Lear e Cordélia” (1793), Benjamin West
Bernardo Souto
Especial para o Jornal Opção
Especial para o Jornal Opção
1. Introdução
Cronologicamente, “Rei Lear” é a
terceira daquelas que os críticos convencionaram chamar de “as quatro grandes
tragédias de Shakespeare” – a saber: “Hamlet” (escrita entre 1599 e 1601),
“Otelo” (1603), “Rei Lear” (1605) e “Macbeth” (1606 ou 1607). Isso significa
dizer que, a esta altura, o bardo inglês já havia alcançado o auge da
maturidade estética, possuindo, por isso mesmo, amplo domínio da technē da arte
dramática. Daí o consagrado crítico norte-americano Harold Bloom afirmar que
“Rei Lear” e “Hamlet”, ambas pertencentes a este período, possuem “uma
magnitude que talvez transcenda os limites da literatura (…) tornando-se uma
espécie de Escritura Secular, ou mitologia” (2001, p. 588). Exageros à parte,
não resta dúvida de que estamos diante de uma das mais impressionantes
realizações artísticas do espírito humano e, segundo o mesmo Bloom, da mais
“trágica das tragédias [de Shakespeare]” (ibidem, p. 607). São precisamente os
elementos trágicos dessa obra magna que analisaremos a seguir.
A concepção niilista de Bloom, segundo
a qual “a peça é uma tempestade, sem subsequente bonança” (idem, p. 607), nos
remete àquilo que Albin Lesky, em seu exemplar “A Tragédia Grega”, compreende
como visão cerradamente trágica da vida, que compreende “o mundo como sede da aniquilação
absoluta de forças e valores que necessariamente se contrapõem, inacessível a
qualquer solução e não pode ser explicado por nenhum sentido transcendente”
(2006, p. 38). Veremos mais adiante, no entanto, que a tragédia do rei da
Bretanha, em que pese ser “a mais contundente e inescapável das obras
literárias” (BLOOM, ibidem, p. 611), e apesar de recair naquilo que Goethe
chamou de “contradição inconciliável” (apud LESKY, ibidem, p. 31), atinge uma
dimensão que transcende o niilismo: seja na comovente cena em que Lear, após
ter vencido a tempestade e a loucura, reconhece Cordélia (IV, vii) –
anagnorisis –, seja pela esperança nascida devido à sobrevivência do
nobilíssimo Edgar, que, com a recusa do Duque de Albany, assume o trono da
Bretanha. Ademais, o enorme enriquecimento espiritual de Lear após os
duríssimos golpes contra ele desferidos durante a “sua longa e dolorosa
caminhada de rei a homem”, como tão bem expressou Bárbara Heliodora (2001,
p.174), demonstram que William Shakespeare, a despeito de enfatizar em sua
tragédia o lado obscuro da natureza humana, acreditava que a humanização do
homem poderia sim ser atingida, concepção que o distancia sobremaneira da
descrença absoluta nos valores terrenos (niilismo).
Frontispício da primeira edição de “Rei Lear”,
datada de 1608 | Foto: Reprodução
2. Hamartia, hamartias
A cena I do I ato é essencial para o
entendimento do conflito sem o qual a trama não existiria. Trata-se da famosa
cerimônia adulatória planejada pelo velho Lear com o fim de repartir o reino
entre as filhas. Como se sabe, diante da resposta insatisfatória de Cordélia –
que se recusa a dar coro ao discurso hipócrita das irmãs –, Lear toma uma
atitude extremada, cortando completamente todo e qualquer tipo de vínculo com a
filha mais nova – filha “desde sempre preferida” (HELIODORA, ibidem, p.179),
além de deserdá-la. Neste caso, a atitude que é a mola propulsora de toda a
tragédia é a hamartia de Lear, entendendo-se por hamartia “a falha intelectual
do que é correto, uma falta de compreensão humana em meio a essa confusão em
que se situa nossa vida” (LESKY, ibidem, p. 44). Porém, no caso específico da
obra em análise, acreditamos que Lear enquadra-se dentro de uma concepção mais
moderna de hamartia, segundo a qual o hamárton (o-que-errou) “é definido como
aquele que, sem ser obrigado a isso, escolheu, deliberadamente, cometer o
delito” (PAVIS, p. 191), visto que o orgulhoso monarca possuía plena
consciência do amor de Cordélia por ele (caso contrário, após feita a partilha
que idealizara antes do conflito com a filha caçula, daria preferência a residir
ao lado de Goneril ou Regan). É um sofisma, portanto, afirmar que Lear
organizou a contenda verbal entre as filhas para aferir o amor que elas nutriam
por ele, pois, para que a cerimônia adulatória transcorresse ao gosto do mimado
rei, a retórica, necessariamente, deveria sobrepujar a sinceridade. Assim
sendo, a contundente atitude de Lear para com Cordélia foi mais por revide do
que por hamartia, se entendermos por hamartia erro de alvo, ‘cegueira’.
No entanto, como argumenta Heliodora
(ibidem, p.179-180), “seria válido dizer, por outro lado, que, sendo Cordélia
desde sempre a preferida, não lhe custaria tanto assim concordar em desempenhar
seu papel no show de amor filial pedido pelo pai”. Portanto, chegamos aqui,
segundo Schopenhauer, a uma das premissas fundamentais das tragédias mais
bem-sucedidas, que é o trágico das circunstâncias: “junto ao trágico
condicionado pelo mal e ao trágico condicionado pelo destino cego, aparece
aquela terceira forma a que Schopenhauer concedeu especial importância: o trágico
das circunstâncias, que se produz quando entram em conflito dois ou mais
contrários igualmente válidos” (LESKY,ibidem, p. 49), pois, na peça em análise,
Lear e Cordélia são, a um só tempo, inocentes e culpados. É que enquanto o
velho rei da Bretanha foi dominado pelo “orgulho ou arrogância funesta”,
definição dada por Patrice Pavis para hybris (ibidem, p. 197), Cordélia, sua
filha predileta, errou pela falta de bom senso (característica presente em
qualquer tipo de excesso, inclusive no excesso de sinceridade). Assim sendo,
erram aqueles que, a exemplo dos comentadores antigos, veem a atitude de Lear
como absurdamente inverossímil, visto que, sendo o rei autoritário e viciado em
bajulações e discursos hipócritas por parte da maioria dos membros da corte
(como é possível deduzir desde a leitura da primeira cena da peça), nada mais
natural do que ficar enfurecido com o discurso desabusado de Cordélia, de quem
esperava, convenhamos, palavras bem mais amáveis…
***
Diferente é a hamartia de Gloucester.
O processo Gloucester é uma espécie de sub-enredo que segue paralelo à célula
dramática principal, e tem a função de tornar a trama central mais plausível,
despojando-a do caráter de exceção. Assim como Lear, o Conde de Gloucester
também é vítima da ingratidão filial através do ardiloso Edmundo, seu filho
bastardo. Possuidor de uma inteligência maquiavélica, Edmundo arma uma cilada
contra o ingênuo irmão Edgar, jogando-o contra o pai. Para Harold Bloom,
Edmundo é “mais brilhante até mesmo que Iago, menos improvisador e mais
estrategista do mal” (ibidem, p. 595). Edmundo, estrategista brilhante, engana
facilmente o pai (Gloucester), que, a partir de então, por um erro de alvo
provocado pela cegueira do intelecto (hamartia), condena o filho Edgar. A
hamartia de Gloucester, portanto, não é provocada pela hybris, se entendermos
esta como “orgulho ou arrogância funesta” (PAVIS, ibidem, p. 197), mas pelo
extremo brilho da perversa inteligência de Edmundo.
3. O Heroísmo Trágico
Se a tragédia, como bem percebeu
Aristóteles (1997, p. 21), é a representação de homens superiores, o que faz de
Lear superior? Podemos dizer que Lear é um herói trágico por excelência, pois
“concentra em si uma paixão e um desejo de ação que lhe serão fatais” (HEGEL
apud PAVIS, ibidem, p. 193). Ademais, como esclarece Patrice Pavis, “só existe
herói, no sentido estrito, numa dramaturgia que apresenta as ações trágicas de
reis ou príncipes, de modo que a identificação do espectador se realize em
direção a um ser mítico ou inacessível” (idem, grifo nosso). No caso de Lear, é
o desejo de ação, quando realizado, que dá origem ao titanismo, característica
que o faz um dos mais impressionantes heróis da história do teatro. O titanismo
do velho rei de Bretanha chega ao ápice quando ele, humilhado por Goneril e
Regan, prefere viver desamparado e ao relento – entregue à fúria da tempestade
– a ferir sua dignidade curvando-se aos sádicos caprichos de suas filhas mais
velhas, em que pese o apelo do Bobo, proferido em meio aos golpes da chuva e às
rajadas de vento:
Ó tio, mais vale água benta no pátio de uma casa/ seca, do que toda esta água de chuva ao ar livre. Vai para/ dentro, bom tio, e pede a bênção de tuas filhas. Uma noite/ como esta não se apieda nem de sábios nem de bobos.(1)
Ó tio, mais vale água benta no pátio de uma casa/ seca, do que toda esta água de chuva ao ar livre. Vai para/ dentro, bom tio, e pede a bênção de tuas filhas. Uma noite/ como esta não se apieda nem de sábios nem de bobos.(1)
A cena do velho Lear exposto à
tempestade ilustra bem aquilo que Aristóteles definiu como o elemento patético
da tragédia, que “consiste numa ação que produz destruição ou sofrimento, dores
cruciantes (…), ferimentos ou ocorrências desse gênero” (1997, p. 31, grifo
nosso). O patético, por sua vez, deriva-se de outro elemento essencial à
tragédia: a peripécia. Segundo Aristóteles, a peripécia é bem sucedida quando o
herói passa “não do infortúnio à felicidade, mas, ao contrário, da felicidade
ao infortúnio” (ibidem, p.32). É precisamente essa a reviravolta que ocorre com
Lear: antes rei poderoso, torna-se, após o rompimento com as filhas, apenas um
ancião sem rumo em meio à cólera dos ventos.
Mas esse titanismo custará a Lear alto
preço: um longo mergulho no oceano da loucura. Em contrapartida, esse ato de
profunda coragem e desprendimento – típico ato de um espírito superior –
iluminará, pela primeira vez, os arcanos onde reside o eu profundo do
ex-monarca, arcanos outrora ocultados pelas sombras de uma existência
inautêntica edificada sob os alicerces do fausto e das bajulações. É na cena iv
do III ato que Lear ouve, pela primeira vez nos seus oitenta anos, a voz do seu
eu profundo:
Onde quer que estejais, pobres sem
roupa,/ que os golpes suportais desta impiedosa/ tempestade, dizei-me: de que
modo/ vossos flancos mirrados e as cabeças/ desprotegidas, vossos trapos ricos/
em furos e janelas hão de o corpo/ vos proteger numa situação como esta?/ Oh!
Muito pouco me ocupei com isso!/ Cura-te, fausto! Vai sentir o mesmo/ que os
miseráveis sentem, porque possas/ sobre eles derramar o teu supérfluo/ e os
céus mostrar mais justos.(2)
Não há histeria nas palavras de Lear,
mas verdadeira compaixão. Trata-se do passo decisivo de “sua longa e dolorosa
caminhada de rei a homem” (HELIODORA, ibidem, p.174). A partir de então, Lear
despoja-se, definitivamente, das máculas e ilusões trazidas pela riqueza e pelo
poder. É precisamente neste momento em que ocorre a catarse, isto é: a ação
nobre do herói (no caso da peça, Lear) inspira no expectador a purgação de
emoções como temor e pena (Aristóteles, 1997, p. 24). Tanto o temor (receio
nascido no íntimo do expectador de viver experiência semelhante) como a pena (a
compaixão nascida desse temor) advêm da identificação surgida nesse instante
entre o expectador e o herói trágico. Para Patrice Pavis (idem, p. 200), a
“identificação com o herói é um fenômeno que têm profundas raízes no
inconsciente. Este prazer provêm, segundo Freud, do reconhecimento catártico do
ego do outro, do desejo de apropriar-se deste ego, mas também de distinguir-se
dele”.
Na peça shakespeariana, portanto, Lear pode ser interpretado como uma espécie de personificação do orgulho e de suas consequências nefastas. Neste sentido, a tragédia do monarca britânico possui um forte sentido cristão, na dimensão mais elevada do termo. Dimensão em que não há espaço nem para moralismos estreitos e nem para puritanismos. l
Na peça shakespeariana, portanto, Lear pode ser interpretado como uma espécie de personificação do orgulho e de suas consequências nefastas. Neste sentido, a tragédia do monarca britânico possui um forte sentido cristão, na dimensão mais elevada do termo. Dimensão em que não há espaço nem para moralismos estreitos e nem para puritanismos. l
Bernardo Souto é bacharel em
Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em
Literatura e Cultura: Estudos Comparados, pela Universidade Federal da Paraíba.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. “A Poética Clássica”. São Paulo: Cultrix, 1997.
BLOOM, Harold. “Shakespeare: a invenção do humano”. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
FREUD, Sigmund. “Carta 409 F”. In: “Sigmund Freud & Sándor Ferenczi: correspondência”. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
HELIODORA, Barbara. “Falando de Shakespeare”. São Paulo: Perspectiva, 2001.
LESKY, Albin. “A tragédia grega”. Trad. J. Guinsburg, Geraldo Souza, Alberto Guzik. São Paulo, Editora Perpectiva, 2006.
PAVIS, Patrice. “Dicionário de Teatro”. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005.
“O Teatro no Cruzamento de Culturas”. São Paulo: Perspectiva, 2008.
SHAKESPEARE, William. “O Rei Lear”. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1955.
“The Tragedy of King Lear”. In: William Shakespeare: The Complete Works (compact edition). New York: Oxford University Press Inc., 1988.
ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. “A Poética Clássica”. São Paulo: Cultrix, 1997.
BLOOM, Harold. “Shakespeare: a invenção do humano”. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
FREUD, Sigmund. “Carta 409 F”. In: “Sigmund Freud & Sándor Ferenczi: correspondência”. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
HELIODORA, Barbara. “Falando de Shakespeare”. São Paulo: Perspectiva, 2001.
LESKY, Albin. “A tragédia grega”. Trad. J. Guinsburg, Geraldo Souza, Alberto Guzik. São Paulo, Editora Perpectiva, 2006.
PAVIS, Patrice. “Dicionário de Teatro”. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005.
“O Teatro no Cruzamento de Culturas”. São Paulo: Perspectiva, 2008.
SHAKESPEARE, William. “O Rei Lear”. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1955.
“The Tragedy of King Lear”. In: William Shakespeare: The Complete Works (compact edition). New York: Oxford University Press Inc., 1988.
NOTAS
(1) O nuncle, court holy-water in
a dry
house is better than this rain-water out o’ door.
Good nuncle, in, and ask thy daughters’ blessing:
here’s a night pities neither wise man nor fool
(SHAKESPEARE, 1988,III, ii, p. 959).
house is better than this rain-water out o’ door.
Good nuncle, in, and ask thy daughters’ blessing:
here’s a night pities neither wise man nor fool
(SHAKESPEARE, 1988,III, ii, p. 959).
(2) Poor naked wretches,
whereso’er you are,
That bide the pelting of this pitiless storm,
How shall your houseless heads and unfed sides,
Your loop’d and window’d raggedness, defend you
From seasons such as these? O, I have ta’en
Too little care of this! Take physic, pomp;
Expose thyself to feel what wretches feel,
That thou mayst shake the superflux to them,
And show the heavens more just
(SHAKESPEARE, ibidem, p. 960).
That bide the pelting of this pitiless storm,
How shall your houseless heads and unfed sides,
Your loop’d and window’d raggedness, defend you
From seasons such as these? O, I have ta’en
Too little care of this! Take physic, pomp;
Expose thyself to feel what wretches feel,
That thou mayst shake the superflux to them,
And show the heavens more just
(SHAKESPEARE, ibidem, p. 960).
ENTREVISTA COM BARBARA HELIODORA, SOBRE TEATRO
E SHAKESPEARE
Aos 89 anos, ela está em plena
atividade. Vai três vezes por semana ao teatro, publica crítica de teatro em o
globo, tem um livro no prelo, Caminhos do teatro ocidental (Leya/Solar do
Rosário, 2013). Professora Emérita pela unirio, agraciada pela República
Francesa com a Ordre des Arts e des Lettres, condecorada com a Medalha João do
Rio pela Academia Brasileira de Letras.
Foi membro do Prêmio Molière e do
Prêmio Mambembe, diretora do Serviço Nacional de Teatro (1964-1966), fundadora
do Círculo Independente de Críticos Teatrais (rj-sp)… impossível elencar tudo o
que fez e o que faz Barbara Heliodora. Ah, e que tradutora! De Shakespeare,
traduziu todas as peças: Teatro Completo volumes 1 e 2, Nova Aguilar;
infelizmente, o volume 3, ainda não foi publicado. E traduziu dezessete
sonetos. Vamos torcer para que traduza mais.
De Tchekhov, traduziu A gaivota (Edusp, 2000) e O cerejal (Edusp, 2001). De Beaumarchais, As bodas de Fígaro (Edusp, 2001). De Oscar Wilde, traduziu Contos e também Histórias de Fadas (Nova Fronteira, 1992; 1994) e ganhou um Jabuti. E, também, todas premiados com o Prêmio ibeu de melhor tradução: Eugene O’Neill (A mais sólida mansão), Bernard Shaw (Meu querido mentiroso), Lee Blessing (Um passeio no bosque), Paul Zindel (Os efeitos dos raios gama sobre as margaridas do campo) e William Luce (A filha de Lúcifer).
De Tchekhov, traduziu A gaivota (Edusp, 2000) e O cerejal (Edusp, 2001). De Beaumarchais, As bodas de Fígaro (Edusp, 2001). De Oscar Wilde, traduziu Contos e também Histórias de Fadas (Nova Fronteira, 1992; 1994) e ganhou um Jabuti. E, também, todas premiados com o Prêmio ibeu de melhor tradução: Eugene O’Neill (A mais sólida mansão), Bernard Shaw (Meu querido mentiroso), Lee Blessing (Um passeio no bosque), Paul Zindel (Os efeitos dos raios gama sobre as margaridas do campo) e William Luce (A filha de Lúcifer).
Escreveu livros importantíssimos sobre
Shakespeare: A expressão dramática do homem político em Shakespeare (Paz e
terra, 1978), sua tese de doutoramento; Falando de Shakespeare (Perspectiva,
1997); Reflexões Shakespeareanas (Lacerda, 2004). Para resumir, ela respira
teatro. Augusto e eu fomos até sua casa, no Beco do Boticário, no Cosme Velho,
Rio de Janeiro, conversar sobre teatro, sobre Shakespeare, sobre tradução.
Ficamos por quase duas horas até que chegou mais gente para entrevistá-la. Ela
não pára. Saímos de lá encantados.
A. Considerando o seu conhecimento de
Shakespeare, fale um pouco sobre
Macbeth, Ricardo III e a existência do Mal.
BH: Para Shakespeare o mal é um dado permanente e, principalmente nas tragédias, ele mostra ações nas quais podemos perceber como o homem enfrenta o mal. O que é que acontece quando o homem se vê diante do mal, que está presente, de forma mais ou menos intensa, em todas as peças. Assim como a morte está presente em praticamente todas as peças, mesmo nas comédias. A ameaça da morte está na Comédia dos erros, em Trabalhos de amor perdido…. Do mesmo modo, há personagens cômicos nas tragédias e personagens sérios nas comédias, porque na vida tudo é misturado. Por isso, podemos afirmar que ele tem sempre consciência de todo o panorama à sua volta.
Macbeth, Ricardo III e a existência do Mal.
BH: Para Shakespeare o mal é um dado permanente e, principalmente nas tragédias, ele mostra ações nas quais podemos perceber como o homem enfrenta o mal. O que é que acontece quando o homem se vê diante do mal, que está presente, de forma mais ou menos intensa, em todas as peças. Assim como a morte está presente em praticamente todas as peças, mesmo nas comédias. A ameaça da morte está na Comédia dos erros, em Trabalhos de amor perdido…. Do mesmo modo, há personagens cômicos nas tragédias e personagens sérios nas comédias, porque na vida tudo é misturado. Por isso, podemos afirmar que ele tem sempre consciência de todo o panorama à sua volta.
A. No livro Falando de Shakespeare, a
senhora fala no amor, no bem e no mal. Como é que seria o amor entre o casal
Macbeth?
BH: Shakespeare ama o ser humano em
qualquer circunstância. Não é um amor piegas; o que Shakespeare considera nesse
grande amor à humanidade, é que a pessoa tenha, como diz Lady Macbeth, “the
milk of human kindness”, o “leite da bondade humana”.
A. Como fica Ricardo III?
BH: Ele personifica o pior dos reis,
que também é a pior das pessoas. No final do Henrique vi, ele diz: “I have no
brother, I am like no brother;/ And this word
‘love,’ which greybeards call divine,/ Be resident in men like one another/ And not in me: I am myself alone.” (Henry vi, part 3, act 5, scene 6). Creio que, para
Shakespeare, “Eu sou eu sozinho” era a coisa mais condenável que existe, pois significa não ter a solidariedade humana, jamais pensar no bem do outro ou
zelar por ele. Isso é que é o básico de tudo. Você ter “the milk of human kindness”, solidariedade humana, é o fundamental no que Shakespeare julga ser
o bem. E a frase “I am myself alone” é o que é mal, é não ter amor ao outro.
‘love,’ which greybeards call divine,/ Be resident in men like one another/ And not in me: I am myself alone.” (Henry vi, part 3, act 5, scene 6). Creio que, para
Shakespeare, “Eu sou eu sozinho” era a coisa mais condenável que existe, pois significa não ter a solidariedade humana, jamais pensar no bem do outro ou
zelar por ele. Isso é que é o básico de tudo. Você ter “the milk of human kindness”, solidariedade humana, é o fundamental no que Shakespeare julga ser
o bem. E a frase “I am myself alone” é o que é mal, é não ter amor ao outro.
A. Seria o irmão que trai o irmão?
BH: É o mau que só pensa em sua
ambição. Macbeth, por exemplo, Shakespeare condena em vários níveis… mas
Shakespeare não é moralizante. Shakespeare não chega e diz: Viu como ele é mau?
Não tem isso; Macbeth mata o rei, e isso tem consequências, representa uma
quebra da ordem política; Macbeth mata um primo, o que é uma quebra da ordem
familiar; e mata seu hospede, a quem devia abrigar. O rei Duncan é rei, primo e
hóspede de Macbeth. A
obrigação de Macbeth era proteger o hóspede e não matá-lo… Então, nesses três níveis, Shakespeare mostra a quebra da ordem natural.
obrigação de Macbeth era proteger o hóspede e não matá-lo… Então, nesses três níveis, Shakespeare mostra a quebra da ordem natural.
A. O que significa no Hamlet o
fantasma do pai que retorna? É o morto que desencadeia o processo dramatúrgico
da peça?
BH: É, eu acho que Shakespeare escreve
em uma época na qual os fantasmas eram comuns; o próprio novo rei, Jaime i,
filho de Mary Stuart, era um famoso expert do assunto, e já havia publicado
obras de demonologia. Muita coisa ainda não explicada era controlada por
fantasmas. No “Hamlet”, Horacio indaga do rei morto porque está voltando, pois
só haviam três razões para o fantasma aparecer: a primeira era ter algum
conhecimento de algum bem que possa ser trazido a ele e traga graças a quem o
traz; o segundo é saber ele de um mal a ser feito à pátria, que é forçoso
exorcizar; e o terceiro saber de algum tesouro escondido na terra que precisa
ser encontrado. Só o morto poderia contar a Hamlet o acontecido.
A. O fantasma é realmente o pai ?
A. O fantasma é realmente o pai ?
BH: É. Mas, de certa maneira, o
fantasma do pai é uma concretização do que o Hamlet já pensava do tio porque no
primeiro monólogo do Hamlet, ele fala do tio com bem pouca simpatia, reclamando
do casamento às pressas, quando ele ainda não sabe que o pai foi assassinado.
Há, na peça, igualmente, uma impossibilidade de a notícia do assassinato chegar
ao Hamlet por qualquer outro meio, já que Claudius, nesse primeiro crime, não
depende de ninguém e encontra o irmão em um ponto isolado onde ia para
refletir. A gente (e a plateia) sente o quanto Hamlet já acha aquele tio uma
força negativa. Shakespeare também não teria outra maneira de informar Hamlet
do assassinato do pai a não ser pelo fantasma. Mas, o fantasma é algo que
aquele público aceitava como perfeitamente viável e ainda serve como uma
concretização dessas suspeitas ou desconfianças que Hamlet já nutria em relação
ao tio desde o início da peça.
A. Pensando nos destinos dos
personagens, a causalidade da vida daqueles personagens, e esses elementos que
aparecem….
BH: Em todas as peças, o
desenvolvimento é sempre gerado por causa e efeito,ou seja, cada ação tem
consequências. Uma das grandes ironias do texto de Hamlet é que quando
Rosencrantz ou Guildenstern — um dos dois, eu nunca sei quando é um e quando é
o outro — depois da comédia, fala sobre as consequências da morte de um rei,
dizendo: “A majestade/ Não sucumbe sozinha; mas arrasta/ Como um golfo o que a
cerca; e como a roda/ Posta no cume da montanha altíssima,/ A cujos raios mil
menores coisas/ São presas e encaixadas; se ela cai/ Cada pequeno objeto, em consequência,/
Segue a ruidosa ruína. O Brado dela/ Faz reboar a voz universal.” Como
Rosencrantz é um bajulador do rei, ele está sugerindo que seria terrível se
Hamlet fizesse algo contra o rei.
O que ele não sabe é que esse processo
já estava em curso, desde quando o rei Claudius matou o irmão Hamlet, lá atrás,
antes do inicio da peça; “a majestade não morre sozinha” quer dizer que quando
Claudius matou o irmão, na realidade ele detonou tudo que está acontecendo.
Rosencrantz não sabe disso, não sabe que Claudius matou o irmão, mas o público
sabe e pode ligar as idéias. Toda ação tem consequência, e a consequência da
ação de Claudius é a peça.
L. Vou mudar de assunto. Que
espetáculos memoráveis de peças de Shakespeare você viu em Londres, em
Stratford? Muitos?
BH: Vi vários. Vi um Júlio César que
me impressionou muito porque foi feito sem intervalo. Demorou duas horas e
vinte minutos, se não me engano; essa ideia da causa e efeito se tornou
evidente na ação, uma coisa implacável — a peça é muito bem construída. Foi
fantástica. Eu vi várias coisas boas; recentemente,o Lear do Ian Mckellen, um
fantástico Much Ado About Nothing, com Derek Jacobi; Jeremy Irons em uma
divertida comédia de Aphra Behn, a primeira autora dramática profissional. Vi
um incrível Rosencrantz and Guildenstern are dead, de Tom Stoppard. Vi uma
Tempestade, dirigida pelo brasileiro Ron Daniels, muito boa, e outra do Peter
Brook, em Paris, tradução do Carrière. Vi uma Megera Domada, em Stratford, com
o Peter O’Toole fazendo o Petrucchio, e de bons Hamlets, vi três: Richard
Burton, Ralph Fiennes e Kenneth Branagh. Em compensação, vi um horrível,
dirigido pelo Peter Hall.
O Much Ado About Nothing era muito
bonito; o próprio teatro é do século xviii, de maneira que o espetáculo, todo
em tons sépia e marfim, combinava com o ambiente do teatro. O cenário era
composto por telas transparentes que entravam e saiam, era um espetáculo
realmente delicioso. Muito, muito bom! Esses bons atores ingleses sabem
dominar o verso, aproveitar a sonoridade, falando claro, o que é ótimo. No
Hamlet do Kenneth Brannagh, ele estava
muito bem, a direção não me pareceu particularmente feliz, mas tinha uma idéia fantástica, a Ofélia louca estava vestida com a roupa do pai assassinado.
A camisa manchada de sangue, o sapato maior que o pé e ela, louca, foi muito bonito. Eu vi o Richard Burton, em 1953, fazendo o Hamlet — ele tinha
uma voz extraordinária. A Ofelia era a Claire Bloom. E a mãe (que eu não me lembro quem foi) parecia talvez um pouquinho mais moça do que o Hamlet.
muito bem, a direção não me pareceu particularmente feliz, mas tinha uma idéia fantástica, a Ofélia louca estava vestida com a roupa do pai assassinado.
A camisa manchada de sangue, o sapato maior que o pé e ela, louca, foi muito bonito. Eu vi o Richard Burton, em 1953, fazendo o Hamlet — ele tinha
uma voz extraordinária. A Ofelia era a Claire Bloom. E a mãe (que eu não me lembro quem foi) parecia talvez um pouquinho mais moça do que o Hamlet.
L. Você viu Olivier no teatro?
BH: Vi. Eu vi o Oliver fazer o Hotspur
na segunda parte do Henrique IV com o Ralph Richardson fazendo o Falstaff.
Ainda era uma das famosas montagens que eles fizeram durante a guerra. Na
Segunda Guerra Mundial, o Olivier tinha entrado para aviação naval; o
Richardson, não sei se chegou a entrar para as forças armadas; mas o Olivier
foi tirado das forças armadas para montar uma companhia teatral e trabalhar a
moral do público. Eles fizeram montagens maravilhosas, que ficaram na história.
E eu vi esse Henrique IV em 1946. Anos depois eu o vi fazendo o Beckett. Ele
fazia o rei, e o Anthony Quinn fazia o Beckett; a certa altura da carreira da
peça, saiu o Anthony Quinn e entrou o Arthur Bennett pra fazer o rei e o
Olivier passou a fazer o Beckett. E um crítico disse: “Ah, agora sim estou
vendo como que é o papel.”
L. E o John Gielgud, você viu?
BH: O Gielgud eu vi aqui no Brasil, em
um espetáculo de trechos de Shakespeare, com Irene Worth. E o vi em Londres
fazer uma comédia horrível; foi constrangedor porque eu tinha sido convidada,
por intermédio da Claude Vincent, uma amiga dele. A história foi assim: ouvira
dizer que Gielgud vinha ao Rio, e desde que soube que ia viajar fiquei pedindo
uma entrevista com ele, mas ninguém arranjou; o British Counncil não conseguiu
e nem o Arts Council de Londres. Mas eu me dava muito com a Claude, uma
anglo-egipcia amicíssima dele, que pegou o telefone, falou com “Dear John” e
fomos convidados para assistir a peça que ele estava estreando e tomar um
drinque com ele depois, no camarim. A peça era um fracasso, e ele elegantemente
declarou um “I have laid an egg”, que é a expressão teatral clássica para
definir um desastre. Mas o papo foi muito agradável, e eu ainda pude perguntar
a ele se vinha ao Brasil, quando, etc.
L. E o Richardson?
BH: Eu vi mais um outro espetáculo de
Gielgud, ele e Richardson fazendo Pinter. É muito interessante porque eu vi os
dois juntos e 25 anos mais tarde, vi a peça novamente, em outra produção. As
duas maravilhosas.
L. E o encontro com o cineasta
Grigorii Kosintsev…
BH: Foi em um congresso de
Shakespeare, no Canadá. Estava no mesmo painel que o Grigorii Kosintsev, um
diretor russo que dirigiu um Hamlet e um Lear fantásticos, no cinema. E a minha
única objeção ao Hamlet do Kosintsev foi o Hamlet sair da sala onde morrem
todos e ir para fora do palácio, e morrer com a visão do mar, onde começou a
peça. Morre ali sozinho, creio que isso é um engano, que é importante o Hamlet
morrer no meio daquilo tudo, de toda a matança, pois ele morre, na realidade,
chefe de estado. Ele morre rei e deixa a coroa para o Fortinbrás. Hamlet diz: —
“Mas auguro que a eleição será de Fortinbrás. Dou-lhe o meu voto, embora na
agonia.” Depois de uns vários dias no Congresso, já tenho um pouco mais de intimidade
com o Kosintsev, não resisti e perguntei para ele porque ele tinha feito isso e
ele respondeu porque a morte é a liberdade. Eu não perguntei mais nada porque
não quis perguntar se isso era uma coisa pessoal ou não. Nesse congresso, eu vi
uma coisa fantástica — a première no hemisfério ocidental do Rei Lear de
Kosintsev. E, como o filme era falado em russo, nas cópias para o público
anglo-saxônico, as legendas eram de William Shakespeare! Não paravam de
aplaudir. O Lear é ainda melhor que o Hamlet, que já é fantástico.
A. Queria pensar as traduções, quais
traduções deram mais trabalho, quais você teve mais prazer.
BH: Todas (risos). Todas deram
trabalho. Eu acho que talvez Lear e Antônio e Cleópatra tenham sido as mais
difíceis. Porque a linguagem é maravilhosa em todas as duas, então, a gente já
começa apavorado… quer dizer, para enfrentar aquilo, é um terror, eu acho que
foram as mais difíceis. A mais rápida foi Romeu e Julieta porque o Moacyr Góes
ia montar e já iam começar os ensaios e eu traduzi, literalmente, um ato por
semana. Nunca mais fiz nada nem compenso parável a isso. Ia traduzindo enquanto
ensinava e fazia crítica, nunca parei de trabalhar para fazer só a tradução…
Quando me perguntam quanto tempo eu demorava para fazer uma tradução, não tenho
a menor ideia porque foi sempre entremeado com outras atividades.
L. Ouvi sobre um projeto de traduzir
os sonetos…
BH: Ah, isso é uma vaga ideia de
traduzir um conjunto de sonetos, fazer uma publicação de, talvez, cinquenta
sonetos, mas são tão difíceis, eu não sei se vou ter coragem realmente… Os
sonetos são difíceis por uma razão muito simples: o inglês é uma língua muito
mais compacta do que o português. Então, para manter as dez sílabas em quatorze
versos, é muito difícil. É um problema você conseguir encaixar em português as
mesmas ideias. Em certas passagens, eu simplesmente não vejo a mínima
possibilidade de conseguir. Alguns sonetos são de uma complexidade de ideias
que, para traduzir aquilo, seriam necessárias muito mais palavras em português
— isso é um problema.
A. Então, os sonetos seriam complexos
para época também?
BH: Na época, eles eram muito
populares. Estava muito em moda os sonneteers. Há várias sequências de sonetos
famosas. Até hoje há uma disputa sobre se os sonetos são autobiográficos ou se
são mera ficção. Ninguém sabe — ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. O que
acontece é que com o inglês moderno, a partir de 1500, principalmente, passando
por todo o período elisabetano, os ingleses estavam fascinados com o que a
língua deles podia fazer de beleza. Eles tinham, inclusive, um hábito que
atrapalha, e muito, na tradução de Shakespeare — adoravam trocadilhos. É uma
coisa horrível de traduzir. Em uns 90% do casos, não tem solução. Você tem que
optar por um dos sentidos e abdicar do outro porque você não vai encontrar nada
comparável em português. Lá, uma vez ou outra, se encontra alguma coisa mais ou
menos equivalente em português que se pode usar, mas, de modo geral, os
trocadilhos não tem solução: é abdicar de um dos sentidos e pronto. Eu, pelo
menos, não vi ninguém conseguir outra solução senão essa.
A. E a linguagem dos sonetos, do verso
no teatro, e da prosa no teatro…
BH: As peças do período mais lírico,
como Romeu e Julieta, principalmente, tem uma linguagem bem semelhante à dos
sonetos. Romeu e Julieta é de 1596 e, por volta de 1590, Shakespeare já estava
escrevendo sonetos. Há um editor dos sonetos que diz mais ou menos o seguinte:
“Só se sabe duas coisas a respeito dos sonetos. Uma: que Shakespeare começou a
escrever mais ou menos em 1590. Duas: que ele escreveu os sonetos. O resto é
tudo bobagem.” Ou seja, sobre os sonetos, só o que se sabe é que foram escritos
e que foram escritos mais ou menos nessa data. Mais nada. O resto, outros dados
concretos, não há, e é claro que por isso há dezenas ou centenas de
interpretações.
A. Voltando aos trocadilhos, como
trazer isso para o século XXI?
BH: A minha postura em relação à
tradução é a seguinte: a tradução melhor que a gente pode fazer é encontrar o
melhor equivalente na língua alvo. Melhor do que isso é impossível. Eu vou dar
um exemplo: eu traduzi uma peça do Thorton Wilder que se chama The Skin of Our
Teeth, em inglês. A peça estava toda traduzida, menos o título. Se eu
traduzisse “pela pele dos dentes”, ninguém iria entender; Por um triz é o
equivalente. Nessa mesma peça me aconteceu algo terrível — é a história de uma
família, o pai se chama Anthropos porque é o próprio homem, a mãe tem um filho
chamado Henry, que na verdade, é Caim, e uma filha, e a empregada que se chama Sabina
– a eterna outra mulher, do Raptos das Sabinas. Tudo se passa nos Estados
Unidos, na déacada de 1940. O primeiro ato se passa na Idade do Gelo, com todo
mundo vestido moderno. O segundo ato se passa em Coney Island, acontece um
concurso de beleza e é o dilúvio. E o terceiro ato é a guerra, qualquer guerra.
E na guerra, naturalmente, Henry é o inimigo; quando acaba a guerra, ele volta
pra casa e, em conversa com a Sabina, ela diz: “You want to be loved”. E ele
responde: “I don’t want to be loved, I want to be hated”, ao que ela retruca:
“Thatis second best”. Tudo bem até o “second best”, porque “o segundo melhor”
não é “second best”. Então, a peça toda estava pronta já há uns dois meses e
não havia jeito de eu traduzir “second best”… quando, no meio de uma noite,
acordei com a ideia: “quem não tem cão, caça com gato”, que é exatamente a
ideia do que é “second best”. “Quem não tem cão, caça com gato” é muito longo,
mas “quem não tem cão…” é suficiente e fica a ideia de second best. Mas é
isso que eu digo, tem que ser o equivalente mais próximo.
L. E a tradução dos nomes dos
personagens? E os nomes de reis?
BH: No Shakespeare eu só traduzi nomes
quando eles são alegóricos – Mrs. Quickly, que eu coloquei Já Passada, por
exemplo. Eu traduzi os artesãos em Sonho de uma noite de verão, porque achei
que ficaria mais divertido; mas, fora disso, eu não mexo nos nomes de
Shakespeare, não — é bobagem. Para os reis, adoto o modo como eles são
conhecidos no Brasil. Quando já é consagrado, você não tem opção.
A. Ao fazer uma crítica pensando no
espetáculo: muda alguma coisa se a peça é contemporânea ou é uma peça de
Shakespeare ?
BH: Não muda, basicamente é um
espetáculo e eu tenho que avaliar o espetáculo que foi feito. Eu acho que a
única coisa que muda um pouco, é que eu tenho mais boa vontade, vamos dizer
assim, com um espetáculo que a gente sente que tentaram, mesmo que não tenham
conseguido, mas que tentaram, que a coisa é séria, que foi feito um esforço,
então, eu acho que isso já merece um aplauso. Compreende? O que eu tenho horror
é do desleixo, é dos que “tiram de letra”, do “olha, faz assim mesmo” — isso é
horrível. De maneira que eu sempre digo que o que se propõe como entretenimento
tem que, pelo menos, entreter. Então, o teatro começou bom e ele tem que ser fluente,
divertido, muito bem feito. A pessoa pagou para ir lá se divertir e não para
ver uma coisa mal feita.L. Em uma critica recente, em agosto de 2012, você
falou sobre como uma boa montagem pode resgatar um texto não tão bom.
BH: Você está exagerando, não dá para
resgatar. A produção de que você fala é a da Dorotéia, do Nelson Rodrigues; a
cenografia era deslumbrante, os figurinos diabolicamente acertados, os atores
muito bons, mas o texto continuou horrível, porque nada pode realmente
salvá-lo. Mas a produção era ótima.
L: Do que foi montado de Shakespeare
no Brasil, do que você gostou mais? Do Galpão?
BH: O Galpão! O Romeu e Julieta do
Galpão é lindo. Lindo, lindo, lindo! E pegou o espírito da peça. Eu acho que
foi uma — é uma coisa comovente de captação do espírito de uma peça. E é muito
pitoresco. E é a única cena do balcão ao contrário, porque Romeu ficava em cima
da capota do automóvel – então o balcão está embaixo e Julieta estava embaixo e
dentro do carro, e Romeu na capota. O espírito da peça estava lá. Foi realmente
excepcional, e agora, como está sendo encenado em Londres novamente, no World
Shakespeare festival de 2012, junto com as Olimpíadas, parece que está atraindo
multidões. O Grupo refez o espetáculo para ir pra Londres.
L: E o Lear do Raul Cortez, você
gostou? E o do Sérgio Brito?
BH: É muito interessante, era bom.
Tinha coisas interessantes, mas era muito desigual. As filhas eram muito ruins.
O Raul estava bem. Na montagem do Lear do Sérgio Brito, o Lear não estava bem
porque a direção errou. A única pessoa que eu achei muito bem foi Paulo Goulart
fazendo Kent.
L: E o Hamlet na montagem com o Sérgio
Cardoso?
BH: O Sérgio Cardoso no Hamlet… o
Hoffman Harnish dirigiu — bom, o Hamlet alemão, do Goethe é histérico, é
romântico ao extremo. Mas Hoffman pegou um elenco jovem, inexperiente, a única
solução era fazer muito romântico. Com aquela idade e aquela inexperiência,
você não pode fazer um Hamlet contido, aprofundado. E funcionou muito bem com
essa linha romanticamente exagerada. Tinha gente que ia todo dia — uma loucura!
Eu conheci uma moça que literalmente foi todos os dias: 30 e poucos
espetáculos, foi a todos. E várias pessoas foram várias vezes, era um
espetáculo, para a época, apaixonante. O teatro andava muito ruim por aqui e,
de repente, o
Hamlet foi uma revelação.
Hamlet foi uma revelação.
L: Outro Shakespeare que marcou época
no Brasil…
BH: O Otelo da Tônia era digno, não
era memorável, mas era correto.
L. Qual a dificuldade e os desafios de
se montar Shakespeare no Brasil?
BH: Acho que as montagens de Shakespeare
têm sido ruins. Tenho a impressão que alguns diretores não querem fazer
Shakespeare, acham que fazer Shakespeare não é bastante importante. Tem que ser
um espetáculo e precisam mexer na peça e aí destroem tudo. O público, é claro,
não pode ver aquilo como Shakespeare. Um mau espetáculo prejudica o
conhecimento de Shakespeare. E acho que, infelizmente, tem havido vários maus
espetáculos. Foi feito um Antonio e Cleópatra que pegava a fala maravilhosa do
Enobarbus no segundo ato, que é em Roma para os romanos. Bem, tiraram a fala do
contexto e começavam o espetáculo com aquela fala, em uma péssima tradução;
porém, fora do contexto, a fala não dizia nada. Depois, vinha a peça, aos
pedaços, recortada, não sobrava nada. No fim, a plateia não podia compreender o
que era, do que se tratava.
L. Para se montar Shakespeare no
Brasil, o que precisa ser preservado?
BH: Acho que para fazer Shakespeare é
simplesmente querer realmentre fazer aquela peça, e não o nome de autor; é
preciso saber o que ela diz, como evolui, e com todos os atores tendo uma noção
muito clara do que dizem. Quando se estuda a obra realmente, ela pede o estilo
do espetáculo, sem que seja necessário inventar enfeites e gracinhas. O texto
embala o ator. Mas todos têm desaber claramente o que estão querendo fazer, que
pode ter vários caminhos mas tem de contar a história, e contá-la de modo que
ela chegue clara à plateia.
L. Com a perspectiva de termos um
teatro Globe com palco elisabetano em Minas Gerais, em Rio Acima, que peças
poderiam ser montadas beneficiando-se desse palco?
BH: O palco elisabetano pode ser usado
para toda espécie de texto; se for necessário pôr uma mesa e algumas cadeiras a
certo momento, não há problemas, depois se tira; os atores usavam material
cênico no tempo de Shakespeare. Quem falar que só os ingleses sabem fazer
Shakeapere, eu respondo que estilo é fazer o que a peça pede, e em uma boa
tradução, com um bom diretor, não há dificuldade, desde que se queira,
realmente, montar aquela peça, e não inventar meios de destruí-la.
L. Um palco elisabetano ajudaria a
entender melhor a dinâmica do texto shakesperiano, o entra e sai contínuo, os
apartes, os monólogos, as convenções do palco avental, próximo à platéia e a
luz do dia?
BH: Eu creio que sim, porque os textos
foram quase todos escritos para esse palco, e fazendo nele o espetáculo, vai
ficar fácil vem como o espetáculo fica fluido e fluente nesse tipo de espaço
cênico.
A. Como é pensar o teatro no Brasil?
BH: Às vezes cansa. Vou a 3 ou 4
espetáculos por semana. Nesses últimos anos, esses 2 anos, a dramaturgia
brasileira parece que tomou fôlego: está apresentando
coisas muito interessantes. Ainda na década de 1960, apareceu uma lei chamada lei do 2 por 1 – um espetáculo de texto brasileiro para cada dois de estrangeiros de uma companhia. Só que naquele momento, já não havia mais companhias estáveis… então, como estrear com uma peça nacional? Então, a solução era a seguinte: se formava a companhia, estreava domingo de manhã com uma peça infantil, de maneira que o texto brasileiro pra estreia já era uminfantil de manhã. Qualquer um servia. E aí fazia um espetáculo estrangeiro, outro estrangeiro. Na hora de fazer o segundo espetáculo brasileiro, a companhia se dissolvia e aí começava outra companhia. Na realidade, não havia autores. Eu acho que não era só culpa de quem estava fazendo teatro, não. Não aparecia um numero suficiente de textos interessantes para ser feito. Quando aparecia um autor, apareceram as peças… O Silveira Sampaio veio depois do Nelson, depois apareceu o Millôr, e o Guilherme Figueiredo… Eventualmente, aparecia um pessoal assim. Mas agora não. De repente, está havendo um movimento aqui. Uma coisa que é importante é que naquele tempo, 80%, 90% das peças eram de autores estrangeiros. Hoje em dia, não. O percentual de textos nacionais hoje é muito mais alto. A gente vê realmente uma presença sólida de dramaturgia brasileira. E isso eu acho que é um progresso muito grande. Apesar de eu achar que é importante continuar importando coisas boas. Não qualquer coisa. Coisas boas. Não vamos ser isolacionistas e dizer que não vale a pena conhecer o que está sendo feito lá fora porque não é verdade. Todo mundo deve conhecer o trabalho do outro. De maneira que para nós é enriquecedor conhecer coisas que estão acontecendo. Basta ver a importância que foi da presença do Brecht para o aparecimento da geração do Guarnieri. Tudo isso foi um produto de uma influência muito forte de Brecht. De maneira que então as coisas novas são importantes também de outros países.
coisas muito interessantes. Ainda na década de 1960, apareceu uma lei chamada lei do 2 por 1 – um espetáculo de texto brasileiro para cada dois de estrangeiros de uma companhia. Só que naquele momento, já não havia mais companhias estáveis… então, como estrear com uma peça nacional? Então, a solução era a seguinte: se formava a companhia, estreava domingo de manhã com uma peça infantil, de maneira que o texto brasileiro pra estreia já era uminfantil de manhã. Qualquer um servia. E aí fazia um espetáculo estrangeiro, outro estrangeiro. Na hora de fazer o segundo espetáculo brasileiro, a companhia se dissolvia e aí começava outra companhia. Na realidade, não havia autores. Eu acho que não era só culpa de quem estava fazendo teatro, não. Não aparecia um numero suficiente de textos interessantes para ser feito. Quando aparecia um autor, apareceram as peças… O Silveira Sampaio veio depois do Nelson, depois apareceu o Millôr, e o Guilherme Figueiredo… Eventualmente, aparecia um pessoal assim. Mas agora não. De repente, está havendo um movimento aqui. Uma coisa que é importante é que naquele tempo, 80%, 90% das peças eram de autores estrangeiros. Hoje em dia, não. O percentual de textos nacionais hoje é muito mais alto. A gente vê realmente uma presença sólida de dramaturgia brasileira. E isso eu acho que é um progresso muito grande. Apesar de eu achar que é importante continuar importando coisas boas. Não qualquer coisa. Coisas boas. Não vamos ser isolacionistas e dizer que não vale a pena conhecer o que está sendo feito lá fora porque não é verdade. Todo mundo deve conhecer o trabalho do outro. De maneira que para nós é enriquecedor conhecer coisas que estão acontecendo. Basta ver a importância que foi da presença do Brecht para o aparecimento da geração do Guarnieri. Tudo isso foi um produto de uma influência muito forte de Brecht. De maneira que então as coisas novas são importantes também de outros países.
L. Que autores novos brasileiros você
destacaria?
BH: João Bilac está fazendo um porção
de coisas. Essa última peça dele, eu gostei muito: Popcorn. Tem o Rodrigo
Nogueira, ah, tem uma porção. Tem o Newton Moreno, o Bosco Brasil, Luís Alberto
de Abreu, Sérgio Roveri, Mário Viana, Alcides Nogueira, Samir Yazbek, Celso
Cruz, Mário Bortolotto…Tem muita gente. Isso é que importa. E eles estão
escrevendo regularmente. Isso também é ótimo. O Mauro Rasi fez uma carreria
maravilhosa. Acho uma pena o Miguel Falabella ter deixado de escrever peças de
3 atos. A partilha é ótima.
Download do pdf da entrevista: barbara_heliodora.pdf
unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Faculdade de Ciências e
LetrasCampus de Araraquara – SP
MÁRIO SÉRGIO TEODORO DA SILVA JUNIOR
O ESTLO DO REI: o diálogo entre O
Rei Leão, da Disney, e Hamlet, de Shakespeare, sob uma perspectiva semiótica.
ARARAQUARA – S.P.
2015
MÁRIO SÉRGIO TEODORO DA SILVA JUNIOR
O ETILO DO REI: o
diálogo entre O Rei Leão, da Disney, e Hamlet, de Shakespeare, sob uma
perspectiva semiótica.
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)apresentado ao Conselho de Curso de Letras, daFaculdade de Ciências e
Letras – Unesp/Araraquara, como requisito para obtençãodo
título de Bacharel em Letras.
Orientador: Luiz Gonzaga Marchezan
Bolsa: Bolsa de Estudos VUNESP
ARARAQUARA – S.P.
2015
Referências:
http://gilvanmelo.blogspot.com/2019/08/caca-diegues-odio-e-poder.html?m=1
https://youtu.be/cQ7LgxMCzCg
https://canaltech.com.br/cinema/o-rei-leao-ganha-novo-trailer-com-personagens-iconicos-e-cenas-classicas-136867/
https://img.estadao.com.br/thumbs/640/resources/jpg/0/1/1562755458810.jpg
https://youtu.be/yUioIn8rPPM
https://youtu.be/0_USvdbYS1g
https://youtu.be/CF-c1K3WWg4
https://youtu.be/6XOJ5p8Mz3k
https://youtu.be/0j7mEsakUHQ
https://youtu.be/9tU-g9OHluU
https://youtu.be/U-JRJPwDRNY
https://youtu.be/VmkSRC-i3AU
https://youtu.be/dZjgk2J2vFw
https://youtu.be/RakhywpkY-k
https://youtu.be/I82PFHKgY2c
https://youtu.be/i1DVEKnts5c
https://youtu.be/kLQ6SRH90s4
https://youtu.be/ZB2KmOAK_E0
https://youtu.be/zZnHD88e3HQ
https://youtu.be/xOz2cvHDDJc
https://youtu.be/z1cBSCRBJx4
https://youtu.be/vbjbz1aX3TQ
https://youtu.be/J57HnR6FPW0
https://img.estadao.com.br/fotos/crop/940x615/resources/jpg/0/1/1503702354610.jpg
https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,o-rei-leao-disney-divulga-trilha-sonora-do-live-action-ouca,70002918381
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq15099803.htm
https://i1.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wp-content/uploads/2017/03/p.2-31.jpg?w=620&ssl=1
https://i0.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wp-content/uploads/2017/03/p.2-32.jpg?w=350&ssl=1
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/por-uma-releitura-de-rei-lear-89646/
http://www.shakespearedigitalbrasil.com.br/entrevista-com-barbara-heliodora-sobre-teatro-e-shakespeare/
https://www.academia.edu/25661632/O_ESTILO_DO_REI_o_di%C3%A1logo_entre_O_Rei_Le%C3%A3o_da_Disney_e_Hamlet_de_Shakespeare_sob_uma_perspectiva_semi%C3%B3tica

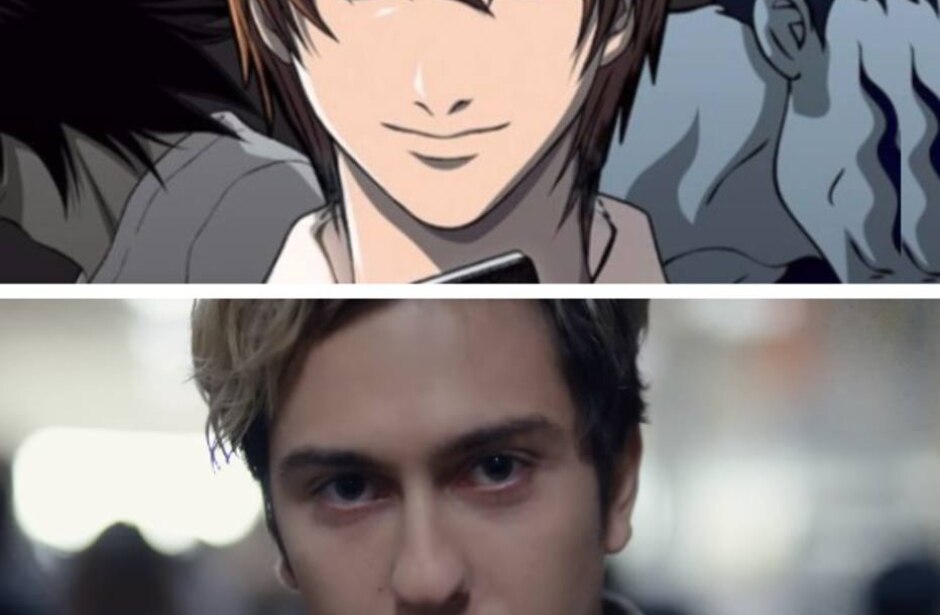


Nenhum comentário:
Postar um comentário